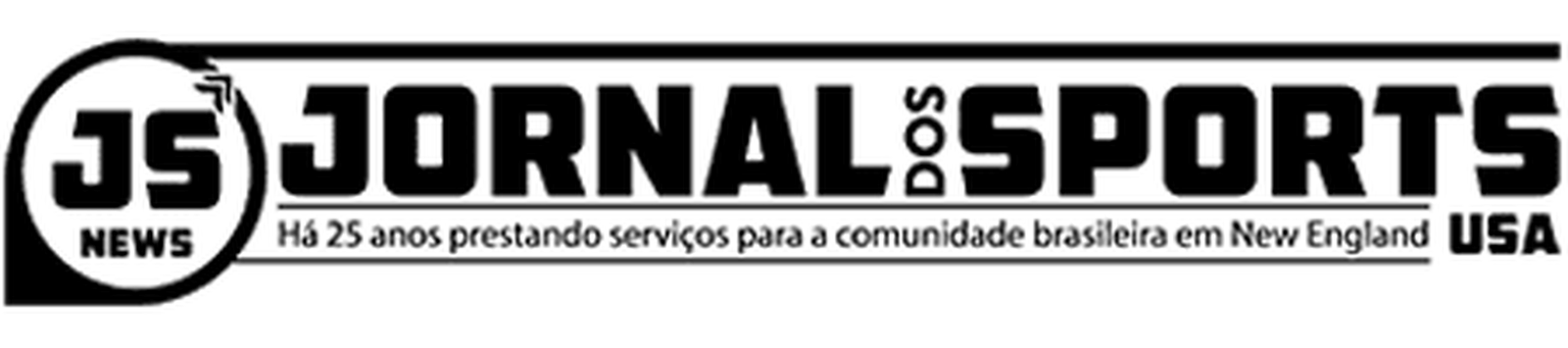Boston, 16 de Fevereiro de 2026
No discurso proferido na Conferência de Segurança de Munique, Marco Rubio pegou o bastão deixado por JD Vance no ano passado. Com formas muito mais polidas do que as do vice-presidente, o secretário de Estado adotou um tom conciliatório, para o alívio de muitos líderes europeus. Ele reafirmou que a administração Trump não busca abandonar a aliança transatlântica, mas sim revitalizá-la: menos nostalgia por um passado que nunca existiu, mais reciprocidade; menos liturgia multilateral, mais resultados concretos.
Mas ninguém se deixe enganar: a luva era de seda, sim, mas dentro havia o mesmo martelo implacável. Rubio chegou a dizer que o relacionamento não está quebrado, está reescrito. E que a Europa só poderá sentar-se àquela mesa se deixar de pedir desculpas por existir. Uma frase lapidar, quase herética no santuário bruxelense da autocomiseração coletiva.
A tese de Rubio é simples e, para as elites de Bruxelas e Berlim, quase subversiva: o Ocidente não está condenado à decadência gerida. O declínio é uma escolha. Em Munique, ele ousou pronunciar essa heresia no templo europeu da dúvida: “declínio gerenciado” – aquela maneira elegante de desistir sem sujar as mãos, de transformar a rendição em política de Estado.
Da “Fim da História” ao Fim da Soberania
Rubio começou com uma leitura do pós-Guerra Fria que, embora irritante para os sacerdotes do consenso progressista, é impossível de refutar: após a queda do Muro, o Ocidente confundiu vitória com destino manifesto. Acreditou na fábula de que havíamos chegado ao “fim da história”, como pregava Fukuyama com o entusiasmo de um profeta de araque. A democracia liberal seria o estado natural do mundo; o comércio substituiria a nação; a “ordem baseada em regras” – essa muleta retórica para esconder a impotência – substituiria o interesse nacional; e viveríamos num planeta sem fronteiras, onde todos seríamos “cidadãos do mundo”. Ao contrário de Vance, ele repartiu a culpa entre Washington e Bruxelas, mas com uma acidez cirúrgica: a Europa, em particular, abraçou essa miragem com o fervor de quem se converte a uma seita.
Essa ilusão teve três consequências concretas, todas elas visíveis hoje no continente: desindustrialização galopante, dependência energética suicida e fratura social irreversível. A produção – e com ela a classe média – foi terceirizada para ditaduras asiáticas, enquanto a segurança continuou a ser terceirizada para o guarda-chuva militar americano. O “dividendo da paz” pós-1989 foi dilapido em Estados de bem-estar social hipertrofiados, financiados pela dívida eterna e sustentados por um Tio Sam que, agora, Washington não concorda mais em bancar indefinidamente.
Aqui, Rubio cravou o dedo na ferida com uma precisão que soa como blasfêmia em Bruxelas: “temos apaziguado o culto climático” com políticas energéticas que empobrecem os cidadãos enquanto concorrentes como Rússia e China usam petróleo, gás e carvão não só para crescer, mas como arma geopolítica. E não para por aí. A Europa financiou seus próprios carrascos. Durante anos, pagou bilhões em euros por gás russo, engordando o Kremlin enquanto Putin rearmava e sonhava com impérios revividos. Ao mesmo tempo, abriu as portas à migração descontrolada – uma inundação que não é mera “diversidade”, mas uma bomba-relógio demográfica. Milhões de chegadas sem integração, trazendo consigo não só mão de obra barata, mas culturas incompatíveis, redes de crime organizado e, em casos extremos, células jihadistas. Bruxelas financiou seus executores: energia para o urso russo, votos e subsídios para o multiculturalismo que erode a coesão social. O resultado? Sociedades fragmentadas, onde a “tolerância” virou sinônimo de suicídio civilizacional.
Não é preciso compartilhar o tom para entender o argumento: a Europa se autoimpôs um espartilho regulatório que encarece a energia, expulsa indústrias e, por cima, vende ao mundo uma superioridade moral de araque. Acredita-se superior por renegar sua própria história e seus interesses vitais. É a versão política do postureo ético dos woke. E depois as elites se espantam quando os eleitores, exaustos, buscam saídas fora do catecismo progressista – de Orbán a Le Pen, de Meloni a AfD.
Fronteiras: O Tabu que Decide Eleições
O terceiro elemento do diagnóstico – e o mais politicamente explosivo – foi a reflexão sobre a imigração massiva. Rubio insistiu: controlar fronteiras não é xenofobia, é soberania. Decidir quem entra, quantos e sob que condições. Na Europa, essa frase deveria ser de senso comum. Mas virou tabu, e tabus, como sabemos, explodem em revoluções eleitorais.
Aqui está o nó que Rubio veio apontar: não é só um debate de políticas públicas, é uma crise de identidade. Uma civilização que se envergonha de si mesma não pode se defender. Uma sociedade que vê sua história como um catálogo de pecados só pode aspirar a expiar, nunca a liderar. E quando uma comunidade perde a vontade de existir, delega seu destino a qualquer estrutura que prometa tranquilidade – mesmo ao preço da própria alma.
Rubio reforçou, com a clareza de um realista clássico, que o diálogo de igual para igual só existe entre forças equivalentes. Se a Europa quer exigir respeito, deve parar de pedir desculpas por existir. Chega de mea culpa perpétuo pela colonização, pela escravidão ou pelo que quer que seja o pecado original da vez. Orgulho não é arrogância; é o combustível da soberania. Sem ele, a Europa vira um vassalo voluntário, implorando por proteção enquanto financia seus algozes.
Europa: Orgulhosa por Dentro, Tímida por Fora
O mais interessante do discurso não foi a crítica – afiada como uma lâmina de Toledo –, mas o elogio. Rubio dedicou boa parte de sua intervenção a lembrar que a Aliança Atlântica não é um contrato mercantil, mas uma herança. Falou da fé cristã, da cultura compartilhada, da tradição jurídica, da ciência e da arte europeias. Mencionou Dante e Shakespeare, Mozart e Beethoven, Michelangelo e Da Vinci, os Beatles e os Rolling Stones. E rematou com uma frase que abraçava sem adular: “Estados Unidos será sempre um filho de Europa”.
É verdade que, como filho de cubanos, Rubio poderia ter ampliado o horizonte ibérico – recordando que a cidade mais antiga dos EUA, St. Augustine, foi fundada pelos espanhóis 55 anos antes de Plymouth, e que a Espanha não só moldou o continente, mas foi pivô na independência americana. Mas isso é detalhe num quadro maior. O essencial é que Rubio não veio como censor, mas como aliado urgente: “Queremos uma Europa forte, porque uma Europa fraca nos enfraquece a todos”.
No fim, o que Rubio propõe não é ruptura, mas renascimento. A Europa, acuada entre a Rússia revanchista, a China expansionista e uma migração que a dilui, tem uma escolha: continuar no declínio gerenciado, financiando carrascos e pedindo perdão, ou abraçar a reciprocidade. Parar de se desculpar por existir e começar a agir como herdeira de uma civilização que, apesar de tudo, ainda é a mais grandiosa da história humana.
Rubio não veio para humilhar. Veio para acordar. E, no tom ácido de quem sabe que a história não perdoa os tímidos, deixou claro: o martelo está na mesa. Cabe à Europa decidir se o usa para se reconstruir ou para selar seu próprio ataúde.