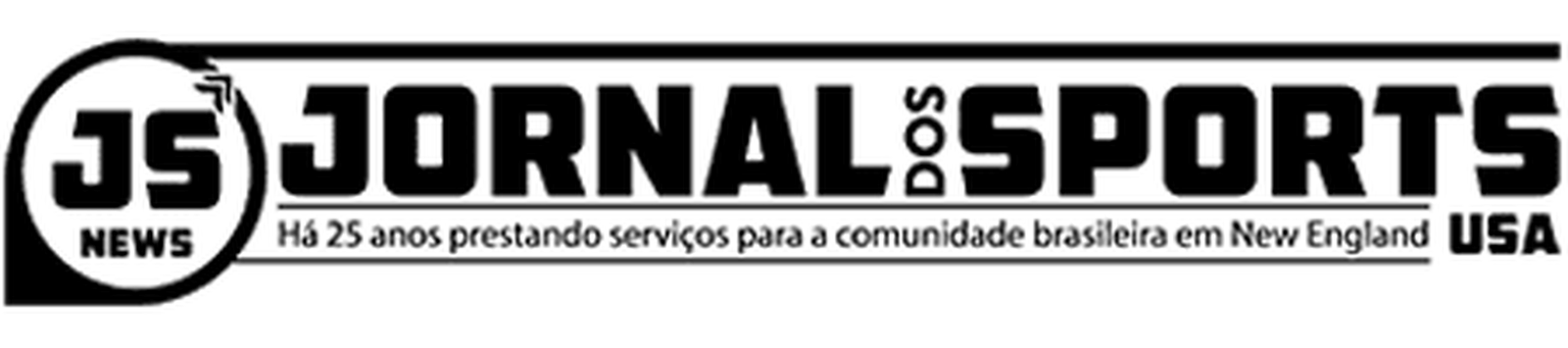(Leire Ventas – Correspondente da BBC News Mundo em Los Angeles)
Ao sair daquela consulta, Marlena Stell dava início a duas semanas “devastadoras“, com os restos de uma gravidez inviável no útero. Mas ela ainda não sabia disso.
O dia era 15 de setembro de 2021. Grávida de pouco mais de nove semanas e meia, Stell acabava de chegar a uma clínica no centro de Houston, no Texas (Estados Unidos), para a segunda ecografia de uma gestação de alto risco.
“Muito iludida”, ela tirou o celular para fotografar tudo e fazer uma chamada de vídeo com seu marido, que teve que ficar do lado de fora devido às restrições causadas pela covid-19.

“Estávamos muito contentes e esperançosos, porque queríamos dar um irmão ou irmã para a nossa filha de dois anos. No ultrassom anterior, duas semanas antes, tudo estava bem”, conta Stell, de 42 anos, à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.
Mas, dessa vez, a imagem do monitor não trouxe boas notícias. “Ali só se via a cavidade, como um túmulo oco“, conta ela. “Minha ginecologista ficou em silêncio e entendi que algo ruim estava acontecendo.”
A médica disse que parecia ser uma gravidez anembrionária, também conhecida como “ovo cego”. Ela ocorre quando o embrião não se desenvolve ou para de desenvolver-se, é reabsorvido pelo organismo da mãe e deixa um saco gestacional vazio. Em outras palavras, uma gravidez sem o bebê.
A gravidez anembrionária costuma estar relacionada a alterações genéticas e é a principal causa de aborto espontâneo, segundo o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia (ACOG, na sigla em inglês).
Stell esperava que a médica apresentasse em seguida duas opções. Mas, em vez disso, ela conta que foi advertida que, “devido à lei dos batimentos que havia acabado de entrar em vigor no Texas”, antes de poder oferecer qualquer tratamento ou intervenção, era preciso apresentar uma segunda ecografia, como prova de que a sua gestação não era viável.
A norma em questão havia entrado em vigor no Texas em 1° de setembro de 2021, apenas duas semanas antes da sua ecografia e nove meses antes que a Suprema Corte dos Estados Unidos eliminasse o direito constitucional ao aborto no país, deixando a legislação sobre o assunto nas mãos dos Estados.
A lei texana é conhecida como a “lei dos batimentos”, porque proíbe a interrupção da gestação se o médico conseguir detectar atividade cardíaca fetal — o que normalmente ocorre a partir da sexta semana, quando muitas mulheres ainda não sabem que estão grávidas.
Stell recorda a cena e ainda não consegue acreditar. “Não é que não se ouviam os batimentos, é que não havia sinal do bebê!”
A clínica que atendeu Stell esclareceu à BBC News Mundo que a lei que protege a confidencialidade dos pacientes não permite comentar sobre casos específicos, mas confirmou que ela “cumpre com a lei dos batimentos” e costuma pedir uma segunda ecografia para confirmar que o observado na primeira está correto e não se trata de “um falso negativo”.
E, quando é confirmado que a gravidez é inviável, a clínica segue “o padrão de atendimento”.
Stell afirma que ali começou sua odisseia particular para conseguir a retirada do conteúdo do útero com um procedimento cirúrgico e assim evitar possíveis infecções.
Curetagem, por favor!
O que ela pedia era um procedimento de dilatação e curetagem, que consiste em dilatar o colo do útero e introduzir um instrumento para retirar qualquer tecido remanescente da gravidez que ainda estivesse retido.
Esse é um dos principais tratamentos para eliminar abortos espontâneos que ocorrem antes da 13ª semana. Outros métodos comuns são a conduta expectante (deixar que o corpo expulse o tecido por si próprio), a aceleração do processo com medicações e a eliminação por aspiração.
“Uma pessoa que passe por um aborto espontâneo deve poder escolher, em consulta com um médico, qual o tratamento adequado para ela”, segundo a representante do ACOG Jennifer Villavicencio. O manual do ACOG também indica o mesmo procedimento.
Mas, depois de encaminhar a segunda ecografia, que confirmou a gravidez anembrionária, Stell afirma terem insistido para que ela esperasse seu corpo expulsar o conteúdo do útero, oferecendo uma receita de misoprostol, um remédio para acelerar esse processo.
“Mas, pela minha experiência anterior [seu corpo não expulsava o tecido uterino e a dor não a deixava caminhar], não me sentia segura com essa alternativa de fazê-lo sozinha em casa e preferia que um médico fizesse no hospital”, relata ela.
Por isso, Stell não usou o remédio e continuou procurando alguém que fizesse a curetagem. Até que conseguiu, em uma clínica de aborto, no dia 28 de setembro.
“Nessas duas semanas, me senti como um caixão ambulante”, descreve Stell, “carregando de um lado para outro o que eu havia desejado que fosse um bebê, mas nunca havia sido”.
Atrasos e ausência de tratamento
A mudança do panorama legal referente ao aborto também está afetando o tratamento das mulheres que, como Stell, enfrentam gestações desejadas, mas inviáveis.
Os pacientes, médicos e organizações entrevistados pela BBC News Mundo indicam que o tratamento de abortos espontâneos incompletos, gravidez ectópica — que se desenvolve fora do útero e é considerada perigosa — e outras complicações comuns está sendo postergado, questionado e até mesmo negado.
“O que realmente mudou é quem está cuidando do tratamento médico, porque (em alguns casos) nós, médicos, deixamos de fazer com receio de ações na justiça, multas e possíveis condenações à prisão”, segundo Amanda Horton, especialista em medicina materno-fetal e obstetra de casos de alto risco, que atende o Texas desde 2014.
A legislação daquele Estado permite que os cidadãos processem civilmente qualquer pessoa que pratique ou ajude a praticar um aborto após a sexta semana de gravidez. E as penas por realizar abortos aumentarão com outra lei que deve entrar em vigor em questão de semanas.
Um dos casos mais comuns que os especialistas vêm tratando de forma diferente com a mudança do panorama jurídico é a “ruptura prematura das membranas”, segundo Horton.
“[A ruptura] ocorre quando rompe a bolsa amniótica de uma pessoa quando ela ainda não está grávida por tempo suficiente para que o feto possa sobreviver fora do útero”, explica ela. Geralmente, o limite da viabilidade fetal é estabelecido entre cerca de 23 e 24 semanas de gravidez, embora não haja um consenso universal.
Quando isso acontece, o mais provável é que o trabalho de parto comece em questão de dias ou em até uma semana, embora a especialista indique que nem todos os casos progridem desta forma. E, sem o líquido amniótico, “aumenta o risco de infecção, sangramento e até de morte fetal, que ocorre quando o bebê morre dentro do organismo da mãe”.
Antes da lei dos batimentos, “o Texas tinha algumas regulamentações sobre quem poderia ou não receber essa opção e havia um procedimento a ser seguido, que incluía uma espera obrigatória de 24 horas — mas, se fosse uma gravidez suficientemente precoce e a paciente desejasse interrompê-la, ela podia“, explica Horton.
“Mas, agora, a menos que haja sinais de infecção ou início do trabalho de parto, não podemos oferecer essa opção porque sua vida não está em risco naquele momento.” A lei dos batimentos permite exceções no caso de risco de morte da mãe.
Um dos casos mais comuns que os especialistas vêm tratando de forma diferente com a mudança do panorama jurídico é a “ruptura prematura das membranas”, segundo Horton.
“[A ruptura] ocorre quando rompe a bolsa amniótica de uma pessoa quando ela ainda não está grávida por tempo suficiente para que o feto possa sobreviver fora do útero”, explica ela. Geralmente, o limite da viabilidade fetal é estabelecido entre cerca de 23 e 24 semanas de gravidez, embora não haja um consenso universal.
Quando isso acontece, o mais provável é que o trabalho de parto comece em questão de dias ou em até uma semana, embora a especialista indique que nem todos os casos progridem desta forma. E, sem o líquido amniótico, “aumenta o risco de infecção, sangramento e até de morte fetal, que ocorre quando o bebê morre dentro do organismo da mãe”.
Antes da lei dos batimentos, “o Texas tinha algumas regulamentações sobre quem poderia ou não receber essa opção e havia um procedimento a ser seguido, que incluía uma espera obrigatória de 24 horas — mas, se fosse uma gravidez suficientemente precoce e a paciente desejasse interrompê-la, ela podia“, explica Horton.
“Mas, agora, a menos que haja sinais de infecção ou início do trabalho de parto, não podemos oferecer essa opção porque sua vida não está em risco naquele momento.” A lei dos batimentos permite exceções no caso de risco de morte da mãe.
Ela teve que dizer isso em junho a uma mulher grávida de 17 semanas que chegou, depois de rompida a bolsa, à pequena clínica da zona rural do Texas onde ela atende.
Como o feto ainda tinha atividade cardíaca, depois de um período de observação e de constatar que sua vida não corria risco naquele momento por falta de sinais de infecção, o hospital a mandou para casa, para esperar que aparecessem esses sinais ou começasse o trabalho de parto.
“Ela acabou cuidando do assunto com as próprias mãos e saiu do Estado para pôr fim à gestação”, ela conta.
Médicos especialistas em gestações de alto risco comparam a forma em que esses casos são tratados — retardando qualquer intervenção — em Estados com leis altamente restritivas sobre o aborto com fazer as mulheres subirem até o terraço de um arranha-céu, empurrá-las até a borda e agarrá-las no momento em que elas iriam cair do edifício.
“É uma forma muito perigosa de praticar a medicina. Todos nós sabemos que alguma mulher irá morrer”, indica um médico do Texas sob condição de anonimato.
Enquanto isso, as chamadas organizações pró-vida rejeitam a ideia de que as leis contra o aborto estejam prejudicando o tratamento da saúde materna. Elas garantem que o verdadeiro problema é a “desinformação” da imprensa e dos ativistas a favor do direito de escolha.
“Como alguém que sofreu episódios de gravidez complicados, existe uma grande diferença entre os esforços médicos para tentar salvar a todos — a mãe e o feto — e trabalhar ativamente para provocar a morte de uma pessoa”, segundo Kristi Hamrick, da Students for Life, uma das maiores organizações contra o aborto dos Estados Unidos.
‘Pesadelo distópico’
Elizabeth Weller, moradora da cidade de Houston, no Texas, de 26 anos, é uma das mulheres que foram obrigadas a subir até o alto do hipotético edifício mencionado pelo médico anônimo. Ela olhou com vertigem para baixo e teve a sorte de não cair.
Ela conta que, no dia 10 de maio, depois de sair para caminhar por recomendação médica, sentiu “uma mudança de pressão no útero”. Quando se abaixou, ela se lembra de ter saído “um jato”.
A ecografia que eles fizeram no pronto atendimento do hospital local Woodlands confirmou a ruptura prematura das membranas. Ela estava na 18ª semana de gestação e ali começou o que ela chama de seu “pesadelo distópico”.
“Há somente líquido amniótico e isso não é bom. Você precisa rezar e esperar que as coisas andem bem”, disse o médico que estava na sala.
Sua ginecologista explicaria a situação com detalhes posteriormente (de forma similar ao descrito anteriormente pela Dra. Horton), apresentando duas opções: ficar internada no hospital até atingir a viabilidade fetal ou proceder ao “término por razões médicas”.
“Ao ouvir essas palavras, meu coração se partiu. Eu sabia que era uma possibilidade, mas foi muito triste e frustrante”, lembra ela.
Ela tomou a decisão junto com seu marido e o casal passou a noite chorando e despedindo-se de sua filha. E conta que, quando comunicaram à ginecologista na manhã seguinte que queriam pôr fim à gestação, a médica respondeu que iria pedir autorização e, naquele mesmo dia, realizariam o procedimento.
‘Não irão tocar em você’
“A minha médica passou as cinco ou seis horas seguintes discutindo com a administração [do hospital], tentando conseguir a autorização do procedimento”, segundo Weller. “Mas, quando voltou ao quarto, ela disse que hospital havia decidido que ninguém iria tocar em mim.”
No seu caso, o procedimento seria uma indução, seguida do parto. Mas a médica deixou claro que a negativa era devido à lei dos batimentos e ao possível cancelamento do caso Roe x Wade.
Por isso, naquele mesmo dia, Elizabeth e James Weller voltaram para casa, para esperar que o feto deixasse de apresentar atividade cardíaca ou que se desenvolvesse uma infecção. Estes eram os sintomas que ela deveria apresentar para que pudessem considerar que sua vida estava em perigo e intervir: “febre (38 °C), calafrios e um fluxo fétido e amarelado”.
“No caminho, compramos um termômetro”, recorda Weller. “James tomou minha temperatura a cada hora, todos os dias, esperando que eu ficasse doente para que nosso sofrimento terminasse.”
A infecção só viria três dias de angústia depois.
Na sexta-feira, ela acordou perguntando-se se continuaria grávida ou não. “Tecnicamente, eu estava, mas meu bebê iria morrer. Onde fico com isso? Estava tendo uma crise existencial”, lembra Weller.
Imersa nessa conversação consigo mesma, ela ouviu um ruído no seu abdômen. Tratava-se de um gás, mas, naquele momento e naquelas circunstâncias, passou pela sua cabeça que seria o grito da sua filha a ponto de morrer.
“Eu me assustei muito e liguei para o hospital para que voltassem a examinar se havia batimentos.” E o hospital constatou que ainda havia atividade cardíaca fetal.
Mas, na volta para casa, Weller observou que o fluxo que manchava sua roupa de baixo já era de cor escura e muito fétido. A infecção havia começado.
Naquela mesma tarde, ela teve o parto induzido. “Minha filha morreu imediatamente depois. Não havia nada que pudesse ser feito. Mas pude tê-la nos meus braços“, ela conta.
A BBC News Mundo entrou em contato com o hospital Woodlands, que faz parte do sistema hospitalar metodista de Houston, para conhecer sua versão. Mas, até o momento da publicação desta reportagem, não houve resposta.
‘Inexplicavelmente cruel’
Mas o caso de Weller é igual a outros relatados por médicos no Texas e em outros Estados norte-americanos com restrições similares ao aborto.
“Antes, costumávamos oferecer a opção do aborto às pacientes com anomalias fetais letais — más formações cardíacas, renais ou cerebrais importantes, que fariam com que o bebê nunca sobrevivesse fora do útero — especialmente quando as mães eram portadoras de condições médicas de alto risco, como hipertensão arterial, doenças renais ou câncer”, segundo Mae Winchester, especialista em medicina materno-fetal de um centro acadêmico de Cleveland, em Ohio (Estados Unidos).
São casos em que “não importa o que fizermos, o bebê não irá sair vivo, e é inexplicavelmente cruel pedir às mães que deem prosseguimento à gravidez até os nove meses, arriscando suas próprias vidas”.
Embora a maior parte das proibições estaduais ao aborto contemple exceções em caso de risco à vida da mulher, a falta de clareza no estabelecimento da linha divisória e o medo de enfrentar ações judiciais estão levando alguns obstetras a consultar advogados e os comitês de ética dos hospitais sobre as decisões relativas a cuidados de rotina.
Equipes de advogados e comitês de ética
A primeira vez em que Winchester procurou aconselhamento legal antes de atender uma paciente foi imediatamente depois da mudança do panorama legal no Estado.
“Eu sabia o que tinha que fazer em termos médicos”, ela conta. “Ela chegou ao hospital com sangramento, dores, alto nível de glóbulos brancos, sinal de que havia infecção, e frequência cardíaca muito alta — todos os sintomas compatíveis com septicemia”, que pode ser mortal.
“Ante esse quadro, o padrão de atendimento é o aborto. Foi assim por décadas. Mas eu precisava de orientação sobre a logística legal que não conhecia: havia formulários que eu precisava assinar? deveria procurar a aprovação de mais alguém?… Queria ter certeza de que eu protegeria a paciente, a mim mesma e à instituição, para poder continuar a fornecer os mesmos cuidados no futuro”, explica Winchester.
Ela agora segue este procedimento em todos os casos. “Preciso obter a aprovação dos nossos advogados antes de fazer qualquer coisa. E não posso fazer o que não permitirem que eu faça.”
“Antes, era muito natural oferecer um amplo leque de opções reprodutivas, mas agora não podemos ajudar as pacientes desta forma — e falo por mim e também pelos outros médicos com quem conversei — por medo de sermos multados ou presos”, admite Horton, obstetra no Texas. “Tenho uma família na qual preciso pensar e que não quero sacrificar.”
Winchester também fala em preocupação e medo, não só dos médicos, mas também das enfermeiras, dos anestesistas…
Questionadas se elas já pensaram em deixar de trabalhar nos seus Estados, as médicas admitem que isso às vezes passa pelas suas cabeças, mas elas se mantêm firmes. “No final das contas, não haver obstetras no Texas só prejudica as mulheres”, afirma Horton.
Winchester concorda e vai mais além: “todos estão muito assustados. [Mas] ninguém mais do que as pacientes.”
“Nós nos preocupamos com o futuro da ginecologia e obstetrícia neste Estado [Ohio]”, segundo ela, “porque, se não formarmos a próxima geração para realizar os procedimentos para salvar [as pessoas], como será para as pacientes daqui a 20 ou 40 anos?”
– Este texto foi publicado originalmente em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62489886