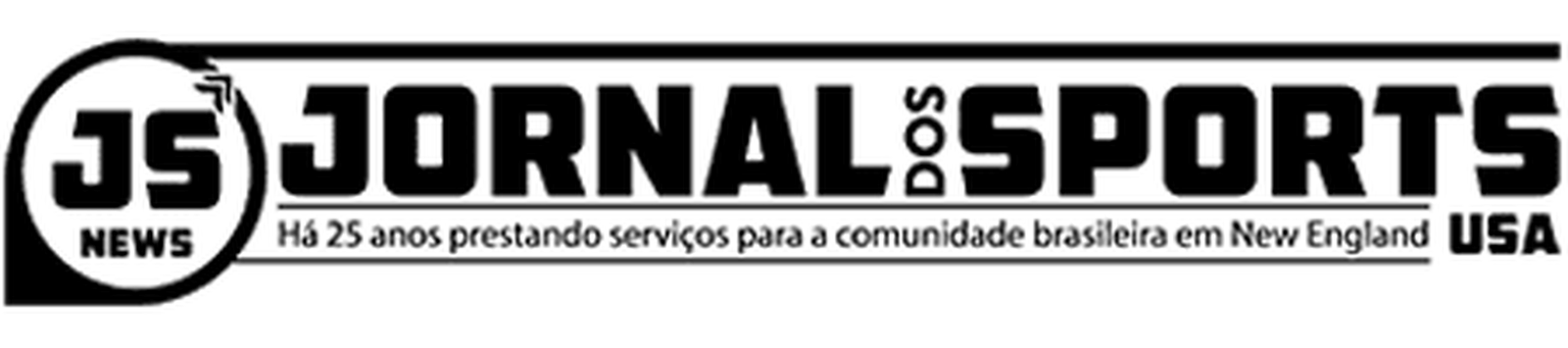BBC NEWS BRASIL – O episódio do desembargador que rasgou uma multa pelo não uso de máscaras em Santos — e que ofendeu o guarda municipal que o abordou — é simbólico de como parte do alto escalão do Poder Judiciário não se enxerga como servidor público, “mas sim como parte de uma casta de privilégios”.
A opinião é do acadêmico Frederico Normanha Ribeiro de Almeida, que estudou a formação de elites jurídicas no país para sua tese de doutorado. Almeida é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e líder do Laboratório de Estudos sobre Política e Criminologia da universidade.
Em um dos episódios que reacenderam o debate sobre elitismo no Brasil, o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi gravado enquanto chamava de “analfabeto” o guarda municipal que o multava por não usar a máscara (obrigatória por decreto municipal) na orla santista.
O desembargador afirmou que o vídeo foi editado e tirado de contexto e que ele, como magistrado, não pode aceitar que a pandemia sirva para “justificar abusos, desmandos e restrições de direito”.
O Tribunal de Justiça paulista determinou “imediata instauração de procedimento de apuração dos fatos”, e a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça também intimou o juiz a prestar esclarecimentos.
Para Frederico de Almeida, o comportamento de Siqueira, embora possa não ser predominante no Judiciário, se perpetua com o silêncio corporativista dos demais magistrados.
Leia os principais trechos da entrevista do acadêmico à BBC News Brasil:
BBC News Brasil – À luz dos seus estudos, que leitura você faz do episódio do desembargador Eduardo Siqueira em Santos?
Frederico de Almeida – É muito emblemático de um tipo de ideologia que existe nas carreiras jurídicas em geral, especialmente na magistratura, de não se perceber como um servidor público ou como um agente da lei, mas de se perceber como parte de uma casta de privilégios, que são materiais — a gente sabe dos penduricalhos que burlam o teto salarial — e baseada em privilégios simbólicos, que é essa ideia do status, do estar acima da lei, do ‘sabe com quem você está falando?’, de ser desembargador.
É uma cultura muito comum. Seria injusto a gente dizer que é uma cultura predominante, porque tem diferenças muito grandes no Judiciário, inclusive geracionais, e no caso de São Paulo, o Tribunal de Justiça tem mais de 300 desembargadores, então tem de tudo. (…)
Mas é uma cultura, que, como a gente viu, é vigente, a ponto de ele (Siqueira) não se constranger de ser filmado, de soltar uma nota depois dizendo que ele era a vítima.
BBC News Brasil – Você falou da simbologia. O desembargador (nas filmagens) aparece ligando para o secretário de Segurança de Santos (em aparente tentativa de exercer pressão sobre o guarda civil). As conexões políticas também são parte dessa simbologia?
Almeida – Também tem isso, e obviamente que a introdução dos concursos públicos no Brasil, a partir dos anos 1930, tende a isolar os juízes da política — ou seja, a pessoa teoricamente entra por mérito.
As exigências absurdas dos concursos públicos, com cada vez mais elitismo, também transformam a ideia do mérito não em uma coisa de conquista, mas de superioridade moral. Cria uma ideologia de que a pessoa, porque passou naquele concurso público, é melhor que os outros.
Na Segunda instância, em que juízes viram desembargadores), (isso ocorre por) por antiguidade, contagem de tempo, ou mérito, o que tem uma margem de subjetividade, embora tenha avanços importantes em tentar fazer esse processo mais objetivo.
Mas acaba-se valendo de conexões políticas internas e externas muito fortes. E mesmo que elas não existissem antes de o desembargador chegar lá, ao chegar lá ele está em posição política importante. Porque ele não é só o juiz que julga em Segunda Instância, ele passa a fazer parte da cúpula política do tribunal. (…) E ali as conexões com o poder político são muito fortes. Fora isso, muitos desses juízes já vêm com suas redes de relações, de convívios familiares, às vezes herdam essas redes.
(…) Um juiz que não tenha esses capitais familiares herdados, que tenha por esforço próprio passado num concurso e queira fazer carreira sem acionar esses outros tipos de relação pode consegui-lo, ainda mais em um tribunal grande como o de São Paulo. Mas é um caminho mais difícil. Porque quem puder acionar essas redes vai se dar melhor.
BBC News Brasil – Você falou no começo em diferenças geracionais. O que mudou ou pode estar mudando nessa dinâmica?
Almeida – A gente percebe, desde o final dos anos 1970, que as bases das carreiras judiciais estão se democratizando, (em comparação com) o período anterior da República. Não são necessariamente membros de uma elite que entram para a magistratura, até porque houve uma expansão do ensino jurídico e uma expansão da classe média urbana. Você começa a ter pessoas que não são necessariamente herdeiras familiares ou de famílias importantes, mas que são de classe média urbana, talvez da primeira ou segunda geração da família a fazer um curso superior e daí passam em um concurso.
Há uma tendência a diminuir a importância desses capitais herdados. Mas isso não quer dizer que essa pessoa — que veio de fora desses círculos familiares e de elite — não vai construir outros círculos lá dentro, porque ela vai ter que sobreviver em uma instituição que funciona nessa lógica.
E tem outra coisa: nem todo juiz vai virar desembargador. Então tem um filtro importante.
Há muitas pesquisas sobre o perfil social de juízes mostrando de modo muito positivo essa diversificação social, de serem trabalhadores que estudaram. Mas o que tentei mostrar na minha tese é que, quando você vê a divisão entre base (do Poder Judiciário) e elite, a elite mudou menos do que a base.
E não é apenas uma questão geracional, de dizer ‘os mais novos ainda não chegaram lá’. É que há filtros para se chegar lá, nos quais são acionados essas intervenções sociopolíticas, essas redes e construções políticas e esses processos internos.
(…) E, com a forma como esses concursos públicos são criados e juntando essa ideia dessa casta de privilégios materiais, mesmo um cara de origens sociais diferentes acaba reproduzindo esse discurso de ‘eu passei então eu sou melhor mesmo’, porque ele passou em um concurso muito difícil e agora é juiz.
Acho que, mesmo com mudanças no perfil social, a instituição tem mecanismos muito fortes de reprodução de culturas e valores, que acabam cooptando mesmo quem é meio ‘outsider’. Quem quiser sobreviver lá dentro acaba se submetendo para sobreviver em uma carreira longa, vitalícia, de 35 ou 40 anos.
BBC News Brasil – Para além do episódio que vimos em Santos, essa dinâmica é perniciosa?
Almeida – É uma coisa histórica, muito pouco regulada. O Judiciário sempre foi muito resistente a controles externos. Ele sempre esteve muito sob ameaça, principalmente no período da ditadura militar, de ser tutelado pelo Executivo.
Quando vem a Constituição de 1988 e ele conquista autonomia inclusive administrativa e financeira, e pode decidir sobre salários, penduricalhos e demais questões materiais, ele acaba virando um Poder mais poderoso ainda, e muito baseado nessa lógica corporativa.
E todos os esforços, desde a redemocratização do país, de tentar restabelecer um controle externo social e democrático sobre o Judiciário sofreram muita resistência.
A primeira ideia de reforma que não foi aprovada, lá nos anos 1990, era de um controle realmente externo, com membros externos.
Hoje, o controle externo, (…) que é o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), criado com a reforma de 2004, é o que na ciência política a gente chama de órgão de governo judicial, não órgão de controle externo. É basicamente um conselho nacional, formado predominantemente por membros da própria magistratura, de tribunais diferentes, (…) sob a presidência da Presidência do Supremo (Tribunal Federal). Então não é um controle externo, é interno.
O que de certa forma me surpreendeu nesse caso (de Eduardo Siqueira) foi a resposta muito rápida do Tribunal de Justiça de São Paulo, que costuma ser muito corporativo. (…) Não legitimou a posição do desembargador Siqueira, mas mesmo assim o CNJ chamou para si o caso, que poderia ficar na competência da corregedoria local.
É muito pouco para a gente festejar uma mudança de cultura, mas é uma sinalização importante quando um tribunal fala ‘não dá’. (…) Ainda tem muito trabalho para fazer — trabalhos formais de controle disciplinar e uma coisa mais de longo prazo, que é uma mudança de cultura, de concepção do Judiciário, sobre seu papel, e se pensar como um funcionário público, (igual a) um professor, um médico de Unidade Básica de Saúde, um policial. Porque eles são isso.
BBC News Brasil – Recentemente fizemos duas reportagens que falavam sobre iniciativas que tentavam mudar essa cultura. Uma era sobre membros do Poder Judiciário que pediam para não serem chamados de doutores. Outra, sobre um projeto da Escola Judicial do TRT-RJ em que juízes faziam, durante um dia, funções ditas “subalternas”, como de limpeza, para que não se distanciassem da população cujos casos iriam julgar. São indicativos de mudança ou são iniciativas muito pontuais?
Almeida – Iniciativas assim existem há muito tempo. (…) O próprio juizado especial, antes juizado de pequenas causas, foi uma iniciativa de juízes, com essa ideia de ‘temos de nos aproximar do cidadão comum’.
Quais os problemas disso: primeiro, essa boa vontade pode se perder nesses aspectos culturais. Eu fiz uma pesquisa sobre uma dessas iniciativas que existiam em São Paulo, e havia de fato um juiz que ia vestido de camisa conversar com as pessoas, mas tinha um juiz que fazia questão, lá no Jardim São Luís (região vulnerável no extremo sul paulistano), de vestir a toga, porque ele falava que isso era importante em uma comunidade que não tinha familiaridade com a presença do Estado, para que percebessem que ele era o Estado. A ideia era colocá-lo próximo do povo, e ele se veste de toga para mostrar que ele é o Estado perto do povo.
Mudanças (visando a aproximação com a população) têm sido cada vez mais comuns, o Judiciário tem premiado iniciativas dessas, mas elas acabam sendo meio ambíguas: não se tornam reformas estruturais e acabam servindo de bons exemplos de uma mudança que está acontecendo, mas que na verdade não é estrutural — é pontual.
E muitas vezes, por ser algo informal e por não mudar a forma de funcionamento do Judiciário, acabam indo para essas iniciativas os chamados ‘vocacionados’. Ou elas viram um castigo: ‘tem que ir lá varrer o chão por um dia’, sem que o cara (juiz) mude a concepção dele.
São movimentos ambíguos e insuficientes para a gente pensar realmente em uma mudança de postura.
BBC News Brasil – De fato existe, na sua visão, um distanciamento muito grande entre a população julgada e a elite que a julga?
Almeida – Acho que tem um distanciamento de várias ordens. O primeiro deles é de acesso — o percentual de pessoas que conseguem levar seus casos à Justiça. Desde a redemocratização até hoje isso já mudou muito, em grande parte pelos juizados especiais. A questão das pequenas causas vingou e virou uma reforma importante. Mas uma pesquisa regular feita pela Fundação Getulio Vargas, o Índice de Confiança na Justiça, mostra que quanto mais as pessoas usam (as instâncias judiciais), menos elas gostam.
Outra coisa importante: o acesso à Justiça é muito mediado. Diferentemente de uma pessoa que procura uma Unidade Básica de Saúde e lida diretamente com um médico, para você propor uma ação você tem que passar por um advogado, um cartorário, um escrevente, e o juiz só vai falar com você — se falar — no momento da audiência.
E lá, até a forma física, da disposição da mesa e das pessoas, o coloca em distância. Geralmente a mesa dele (juiz) é um pouco mais alta, ou ele está na cabeceira da mesa. Ele não fala com as partes, fala com os advogados, não tem muito esforço em simplificar a linguagem. E a gente tem que pensar também que os advogados vivem disso — estamos falando dos juízes, mas todas essas reformas que tentaram tirar essas mediações (encontraram resistência).
(…) Outro problema é o de acesso à carreira. Com toda a expansão do ensino superior que tivemos, (Direito) ainda é um curso elitista. (…) E dessas pessoas (formadas), quantas vão sequer passar no exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)? A pessoa não vira nem advogado, se forma em Direito para prestar concurso de escrivão, de oficial de Justiça.
Então tem uma estratificação social das funções dentro do Direito.
O que eu penso que poderia promover uma mudança de fato é primeiro uma democratização do serviço judiciário, em termos quantitativos. Isso já aconteceu relativamente bem no Brasil. Segundo, uma mudança qualitativa: que a pessoa não pudesse só entrar com uma ação, mas que entendesse o que está acontecendo, sem muitas mediações ou custos, e com respostas rápidas e satisfatórias. Porque (hoje) a pessoa acessa (o serviço), mas não fica feliz.
E também uma democratização das carreiras, que deveria passar por outro tipo de seleção, com cursos mais acessíveis, mas também diminuir a diferença de remuneração.
Com base (nas declarações de) Imposto de Renda, as maiores remunerações no Brasil são de carreiras públicas jurídicas. Então tem uma desigualdade gritante dentro do próprio serviço público e do Judiciário — entre o oficial de Justiça e o juiz.
Óbvio, isso é muito difícil (mudar), o ideal seria promover as outras carreiras com uma equiparação salarial melhor. Mas daí cria-se um outro problema: tudo o que a magistratura conquistou em 1988 virou parâmetro (de equiparação salarial) para outras carreiras no mundo do Direito. (…) Hoje, até agente penitenciário reivindica isso.
Então em vez de a gente pensar em como democratizar essas carreiras, as carreiras fazem movimentos corporativos para se tornarem mais elitizadas. É uma lógica perversa e difícil de mudar.
BBC News Brasil – Uma pesquisa do acadêmico Luciano Da Ros, da UFRGS, apontava que o Brasil tinha altos gastos com o Poder Judiciário (em relação ao PIB), maior do que todos os diversos países analisados. Mas essas questões de que falamos — de dificuldade no acesso à Justiça ou da criação de uma elite — existem também em outros países, não?
Almeida – Em geral, as profissões jurídicas são de muito prestígio e poder político. Mesmo porque, em geral, os Estados modernos, de poder centralizado, surgem em grande parte pelo papel dos juristas em construí-los.
Mas alguns países conseguiram fazer isso de maneira mais democrática e acessível, seja pela expansão do serviço, pelo tipo de remuneração simbólica e material dada aos juízes, pela possibilidade de ter formas de prestação de serviço menos mediadas e mais comunitárias.
Geralmente os casos emblemáticos para se estudar profissões em qualquer país são os de médico e advogado, profissões que no mundo ocidental são muito prestigiadas. Mas há diferenças importantes. O estudo do Luciano Da Ros mostra que o gasto público do Judiciário brasileiro é muito alto, para um atendimento ruim.
Vou fazer a minha defesa corporativa: se pensarmos na pandemia e na (busca por uma) vacina, a universidade pública, com muito menos recursos e muito menos salário, produz muito mais. Mesmo o médico na Unidade Básica de Saúde ou o professor lidando com 50 alunos em uma sala, quantitativamente, eles estão fazendo muito mais. Porque a gente universalizou muito do acesso à educação, mas não universalizamos o acesso à Justiça.
BBC News Brasil – Por outro lado, será que toda essa construção da qual falamos de fato não ajuda a garantir a autonomia do Poder Judiciário, frente inclusive ao Executivo, e a fazer um equilíbrio mais forte entre Poderes?
Almeida – Claro que a autonomia de orçamento e de carreira é importante para evitar inclusive interferências políticas. Mas a gente não pode pular de um extremo para o outro. O que a gente tem que pensar é em autonomia combinada com controle externo, que não seja de um Poder sobre o outro. Um controle social, por exemplo um Conselho Nacional de Justiça que fosse mais plural.
Há formas de controle democráticas, pelo Legislativo, por exemplo, que tem menos poder concentrado que o Executivo. Colocar em público a discussão dessas questões internas e corporativas não é por si só uma ameaça à autonomia.
Tem uma coisa salarial importante: muitas vezes os juízes dizem que se você não pagar um bom salário, o juiz fica sujeito à corrupção ou vai preferir ir para um escritório (privado de advocacia). (…) Mas essa comparação é enviesada, porque esse mercado (de advogados) que ganha muito dinheiro é muito pequena. A maioria não ganha tanto.
Mesmo no caso da corrupção, a comparação não é verdadeira. O juiz pode ter uma remuneração boa e ser protegido da tentação de ganhar uma propina. Mas se a gente levar a palavra “corrupção” a sério, não apenas seu sentido criminal, o que o Eduardo Siqueira fez é uma pequena corrupção — a ideia de corromper e desvirtuar a autoridade que ele tem.
O fato de ele ganhar bem não evita que ele corrompa o seu poder. (…)
BBC News Brasil – Internamente, existe um debate sobre elitismo na carreira jurídica, ou ele ocorre apenas fora — na imprensa ou na academia, por exemplo?
Almeida – Existe, mas é encaminhado de uma maneira muito difícil. Volto àquele primeiro ponto que a gente conversou: os juízes que tentam fazer um caminho alternativo vão acabar sendo malvistos na instituição, por colegas e pela cúpula. (…) Há mecanismos de controle interno que tornam muito custosa essa expressão da dissidência ou da mudança de cultura.
Nos anos 1970, houve uma experiência importante em alguns países, principalmente Portugal, Espanha e Itália, de associações de juízes progressistas. Os juízes que se associavam em sindicatos eram forças externas e ao mesmo tempo internas que pressionaram por mudanças.
O associativismo no Brasil não tem esse perfil (…) e não conseguiu criar uma força desse tipo. Há a associação dos juízes pela democracia, que pensa um Judiciário mais democrático, menos elitista, mais próximo de promover um serviço público e que questiona essas questões de remuneração. Mas são completamente marginais.
Vai sair esta reportagem e eu tenho grandes amigos juízes, que vão ler e não vão gostar. Eu não estou fazendo uma crítica a eles, mas o espírito de corpo é muito forte. Na conversa com amigos, eles podem até concordar com o que eu digo, mas eles sentem que, se forem a público endossar essas críticas, vão fragilizar a instituição, que já é malvista.
Então muitos juízes ficam em uma corda bamba (quanto a) jogar pedra no Judiciário, porque o povo já não gosta do Judiciário. E, ao mesmo tempo, eles não têm força política para mudar internamente.
BBC News Brasil – A sensação é de que podem tirar mais força do Poder Judiciário, em vez de melhorá-lo?
Almeida – Exatamente. Isoladamente, eles podem fazer um trabalho como juiz muito digno, muito bom, competente, atencioso. Mas não vão fazer esse movimento político interno, que tem que ser coletivo, de promover uma mudança de cultura.
BBC News Brasil – O sr. comentou que o caso do Eduardo Siqueira era um em um universo de mais de 300 desembargadores só em São Paulo. Esse elitismo é de uma minoria que acaba ganhando muita força política ou é o comportamento (ou anuência) de uma maioria?
Almeida – Eu não diria que o Judiciário é formado por uma maioria de Eduardos Siqueiras, mas me incomoda muito, como alguém que estuda isso e como cidadão, o certo silêncio dos que não são como ele.
É o peso do corporativismo — a ausência de uma condenação pública de associações, de grupos de juízes. A gente viu críticas (ao episódio) entre desembargadores, mas daí é briga de cachorro grande — é que nem ministro do Supremo criticar um ao outro. Mas você não vê uma repulsa coletiva.
Até acredito que não seja o comportamento generalizado, mas há um certo silêncio corporativista que acaba alimentando esse tipo de comportamento.
BBC News Brasil – E a origem disso, nas sociedades ocidentais, é pelo fato de a ascensão social se dar muito por carreiras jurídicas e médicas, ou há questões específicas do Brasil?
Almeida – Tem uma coisa específica do Brasil, (embora) todas as sociedades ocidentais tenham passado por processos em que juristas foram atores importantes: nós somos profundamente desiguais.
Isso (construção da sociedade) não ocorreu de uma forma em que a relação de poder dos juristas com outros grupos se desse de uma forma mais equalizada. Se deu com uma concentração de poder.
E o Estado brasileiro é formado em bases muito patrimonialistas. Essa ideia de que a pessoa que está no serviço público não é um servidor, é alguém que está acima da sociedade, porque é o Estado, é muito forte na nossa cultura. É muito típico do nosso desenvolvimento.