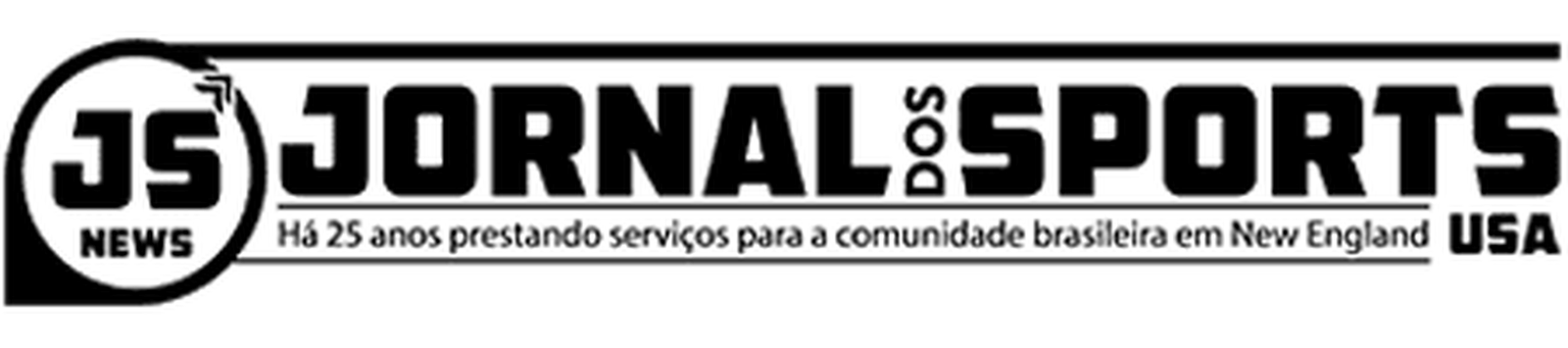Nova York, 27 de setembro de 2025 –
O salão da Assembleia Geral da ONU esvaziou-se como um teatro após o intervalo de uma peça impopular na sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Mais de 100 diplomatas de cerca de 50 nações, incluindo democracias como Irlanda, Espanha e África do Sul, ergueram-se em uníssono e abandonaram o plenário enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, iniciava seu discurso.
Não foi o conteúdo – uma defesa veemente da autodefesa de Israel contra o Hamas, o Hezbollah e o Irã – que os repeliu. Foi o mensageiro: Netanyahu representava Israel, o “vilão preferido” de um fórum internacional que, ao longo de décadas, acumulou mais de 700 resoluções condenatórias contra o único Estado democrático do Oriente Médio.
Em um mundo onde a maioria das nações é governada por ditaduras ou regimes disfuncionais – 55% dos países, segundo o Democracy Index de 2024 –, essa rejeição coletiva revela uma hipocrisia profunda: a ONU, suposta guardiã da paz, prioriza o linchamento simbólico de uma democracia liberal enquanto ignora atrocidades em massa cometidas por tiranias. O walkout, amplamente coberto por veículos como BBC, Sky News e Associated Press, não foi um ato isolado de indignação moral.
Ele reflete um padrão enraizado na história da ONU. Desde 1970, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança adotaram cerca de 500-600 resoluções contra Israel na Assembleia Geral sozinha, mais 100-120 no Conselho de Segurança e pelo menos 200 no Conselho de Direitos Humanos – totalizando mais de 700 atos de condenação, muitas vezes por ações como assentamentos ou operações militares em autodefesa.
Em 2024, foram 17 resoluções contra Israel na Assembleia Geral, contra apenas 6 para o resto do mundo combinado.
Compare isso com a leniência para ditaduras: a China, acusada de crimes contra a humanidade contra uigures em Xinjiang – incluindo detenções em massa, tortura e trabalho forçado, conforme relatório da ONU de 2022 – recebeu apenas 15 resoluções no Conselho de Direitos Humanos desde 2006, e uma moção para debater o tema foi rejeitada por 19 a 17 votos em 2022.
A Síria, com 500 mil mortos na guerra civil, acumulou 45 resoluções no mesmo período; a Rússia, invasora da Ucrânia, viu resoluções como a suspensão do Conselho de Direitos Humanos em 2022, mas nada comparável ao bombardeio anual contra Israel.
Essa seletividade não é acidental. Blocos como a Organização da Cooperação Islâmica (57 nações) e o Movimento Não Alinhado (120 países) – muitos deles ditaduras – impulsionam resoluções anti-Israel para desviar o escrutínio de suas próprias violações. Israel, transparente e democrático, torna-se alvo fácil em um fórum onde 53% da população global vive sob regimes autoritários ou híbridos, conforme o Democracy Index.
Países como Irã e Síria, que participaram do walkout, vetam ações contra si mesmos enquanto condenam Israel rotineiramente. A ONU, idealizada como farol da justiça pós-Segunda Guerra, revela-se um espelho da geopolítica: vetos dos EUA protegem Israel de sanções vinculantes (53 vetos desde 1972), mas o viés simbólico persiste, isolando a única democracia da região em um mar de autoritarismos. Pior ainda é o papel cúmplice da imprensa ocidental, cuja autocrítica autodestrutiva amplifica essa farsa. Veículos como CNN, BBC e The New York Times dedicam cobertura desproporcional a Israel – com 86% das resoluções da Assembleia Geral de 2012-2015 focadas nele, ecoadas em manchetes diárias sobre Gaza –, enquanto subnoticiam horrores em regimes fechados.
Jornalistas internos da CNN e BBC relataram a Al Jazeera, em 2024, um “viés pró-Israel sistemático”, com linguagem emotiva para vítimas israelenses e números frios para palestinos, ignorando contextos como o uso de escudos humanos pelo Hamas.
Mais de 1.500 jornalistas americanos assinaram uma carta aberta em 2024 condenando essa “desumanização de palestinos”, mas o padrão persiste: a crise uigur na China recebe menos espaço que um único bombardeio em Gaza, e a guerra na Síria some das capas enquanto Israel domina o debate.
Essa cobertura não é mera preguiça jornalística; é autodestrutiva. A imprensa ocidental, herdeira de valores liberais como transparência e direitos humanos, erode sua credibilidade ao priorizar narrativas que ressoam com audiências “progressistas” – anti-Ocidente, anti-Israel – enquanto ignora a opacidade de ditaduras. Como alertou o jornalista Matti Friedman, ex-AP, em 2025, a mídia se tornou “amplificadora de ideologias tóxicas” como o ‘hamasismo’.
Em um mundo onde 53% da humanidade vive em regimes que trocam liberdade por conforto – como na China, onde o sistema de crédito social garante estabilidade em troca de vigilância total –, a imprensa ocidental poderia expor essa “servidão voluntária”. Em vez disso, ela autoflagela, criticando democracias abertas como Israel por suas falhas visíveis, enquanto regimes fechados escapam ilesos. A maioria das pessoas, como observamos em uma pesquisas do Pew Research Center (2020), prefere “estabilidade econômica” a liberdades civis, especialmente em nações emergentes onde o medo de errar – ou de perder o mínimo de conforto – prevalece sobre a autonomia.
Na China, 70% confiam no governo autoritário por sua prosperidade forçada; na Rússia de Putin, aprovação ronda 60% apesar da repressão. Esses 4,2 bilhões de almas, aculturados à disfuncionalidade, veem na ONU e na mídia ocidental ecos de sua própria resignação: condenar o “mal visível” (Israel) é mais fácil que desafiar tiranos invisíveis. Mas essa inércia global – ditaduras na ONU, autocrítica suicida na imprensa – perpetua um ciclo onde a liberdade, o item menos lembrado, é sacrificada no altar do conforto.
Netanyahu terminou seu discurso para um auditório esvaziado, mas sua mensagem ecoou: o mundo enfrenta uma encruzilhada entre apoiar a democracia ou o terrorismo. A ONU e a imprensa ocidental, ao escolherem o walkout simbólico, optaram pelo segundo. Enquanto ditaduras riem por último, a verdadeira vítima é a credibilidade global da justiça. Se a ONU quer relevância, e a mídia quer confiança, é hora de mirar nos espelhos partidos de verdade: os regimes que escravizam bilhões em nome da “estabilidade”. Caso contrário, o walkout de sexta-feira não foi só de diplomatas – foi da humanidade inteira.